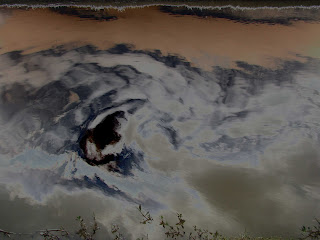A necessidade de sair de casa e buscar, sozinho, novos rumos era visceral. Hoje, ao longo dos sessenta anos, bem e mal vividos, talvez - moendo e remoendo – entenda aquela necessidade tão vital. Sei não.
Sei que se procurasse provavelmente encontraria, lá pelos meus lados, um emprego todo engravatado em um banco, talvez em um hotel, ou mesmo – como queria o Cônego Arnaldo - na velha Casas Pernambucanas, que naquela época já reinava em Ribeirão vendendo tecidos que eram a alegria das costureiras.
Não procurei.
Sabia que no litoral estavam precisando de professores e eu havia terminado o curso Normal e o de Aperfeiçoamento. E já me via dando aulas de manhã e passeando, à tarde, por belas praias, talvez pescando, só, feliz.
Fui parar na Delegacia de Ensino de Registro. Lá a promessa do Sr. Manoel – Inspetor de Ensino – da Escola de Emergência do Bairro Lagoa Nova. A vantagem de assumir uma escola de emergência era o contrato anual que ia de fevereiro a fevereiro.
Aceitei.
“Mala de couro forrada...cheirava fedia mal”. E lá fui eu, perto do dia 15 de fevereiro – início das aulas- munido de duas malas e um guarda-chuva. Em Cubatão morava um irmão, Antônio, operador de pesadas máquinas motoniveladoras, que generosamente deu o dinheiro da passagem de Santos a Registro e uns trocados a mais.
Dinheiro curto. A noite, em Santos, enquanto aguardava a saída do ônibus no dia seguinte, se deu na estação rodoviária e na praia. Um pouco ali, um pouco aqui. Sempre de olho, vigilante, carregando as duas malas e o tal do guarda-chuva, que – automático – vez por outra, desobediente, resolvia abrir sem o menor sinal de chuva. E daí a chatice de ter que colocar as malas no chão para fechar o teimoso guarda-chuva ia se repetindo, na calçada da praia ou em escuras ruelas próximas da rodoviária.
Nas malas roupas, alguns livros e os famosos cadernos da Débora: fornecedora dos conteúdos a serem desenvolvidos nos segundos e terceiros anos do antigo primário.
O ônibus Santos- Registro não margeou, como imaginava, mares azuis e praias brancas. Alcançou a Praia Grande, depois Monguanguá, Itanhaém e Peruíbe. Daí se enfiou por uma tortuosa estrada rodeada, como uma ilha, por intermináveis plantações de banana até chegar à BR 116. Apesar da precariedade das estradas e do ônibus chegamos a Registro: eu e mais uns quinze ou vinte passageiros.
Reunião no Grupo Escolar, onde recebemos o “livro” de chamada, pacote para se fazer os “resumos mensais”, a data da próxima reunião de professores foi marcada e, claro, um dedo de prosa naquele contato inicial com os outros professores.
E eu orgulhoso e feliz.
Mas o que quero mesmo contar foi a ida, pela Lancha Sete, de Registro até a triunfal - para mim - chegada na Escola de Emergência do Bairro da Lagoa Nova.
A escola estava localizada a uns vinte e poucos quilômetros de Registro e naquela época do ano – cheias no Ribeira – o acesso só era possível pelo rio.
Assim vamos lá – eu, minhas malas e meu guarda-chuva – para o “porto” de Registro, tomar a Lancha Sete rumo à escola.
O “porto” onde ancorava a Lancha Sete e outras lanchas menores, estas responsáveis pelo transporte da banana na região, era na verdade um prolongamento, um estuário mesmo da Avenida Fernando Costa, principal avenida da cidade e que cortava Registro ao meio.
A Lancha Sete tinha um percurso único: subia o rio ás terças-feiras de Iguape a Registro onde pernoitava e na quarta iniciava o percurso de volta à Iguape. Foi assim, então, que numa quarta-feira, tive meu primeiro contato com a Lancha Sete, serviço de transporte público da antiga estrada de ferro Sorocabana. Era uma grande lancha, com o “mestre” a guiá-la, dois ajudantes, e em épocas de estiagem, descobri depois, contava com o serviço de um “prático” que conhecia todas as malesas do velho Ribeira: seus bancos de areia, seus canais e seus outros segredos.
As nove, ou às oito horas, não me lembro mais, os motores são acionados, a Sete lança seu apito rouco e todos a bordo. Os passageiros, talvez saturados de tantas viagens como aquela, iniciaram logo os jogos de baralho, outros se reuniam para falar da última cheia ou do último jogo...enfim rotina pura. Eu lá a bordo, parado, segurando as benditas malas e o tal do guarda chuva que, não respeitando momento tão solene, ainda teimava em abrir.
Fortes emoções e um leve disparar das pulsações me obrigam a decisões rápidas. Com um barbante arranjado dei um nó e amarrei o teimoso guarda-chuva que junto com as malas foi para um canto perto da cabine do mestre. O momento, para mim, eterno, urgia silêncio absoluto e olhar para todos os lados, tudo observar. Nada se podia perder. O Ribeira, com suas águas cor de garapa seguia largo, margeado por bananais. Tudo novidade. Esperava a surpresa da próxima curva e na vista quase igual, ia descobrindo grandes diferenças. Ou então via e sentia pequenas e sutis diferenças. A altura do barranco, a casinha de pau a pique e o próximo porto. Êxtase puro. A novidade que se aproximava a cada nova curva do Ribeira de Iguape me transtornava. Mudo, só, com um inexplicável orgulho e feliz. Muito feliz.
À margem do cansado Ribeira bambus vestidos com sacos plásticos, imitando uma bandeira, sinalizavam a existência de um porto. A lancha Sete, obediente, manobrava e atracava nestes portos. Alguém descia, às vezes alguém descia e outros subiam, outras vezes sem o sinal, a Sete teimava em manobrar , atracava e os ajudantes deixavam no porto sem bandeira sacos com mantimentos, encomendas, cartas, engradados de aguardentes e muito mais. Em outros portos desciam pessoas que eram carinhosas e recatadamente recebidas. Desciam com seus sacos carregados apoiados pelos ajudantes da Lancha Sete e tomavam logo rumo no meio dos bananais se escondendo da gente e do rio.
Meu futuro amigo, Baiano, puxou conversa e saí do etéreo estado em que me encontrava.
- ”Quer jogar 21?”
- “Não sei”.
- “É fácil, é só contar 21, vamu?”.
Não fui mas perguntei se Lagoa Nova estava longe. Faltava ainda, segundo Baiano, umas dez ou doze curvas. Antes disse, teríamos que passar pelo porto de Guaviruva, do Toshio, do Saito....
Duas horas de viagem já haviam se passado comigo calado, quieto, saboreando cada curva, namorando as águas verdes do rio, olhando as ondas que a Sete fazia no Ribeira balançando canoinhas de pescadores que pareciam ir à deriva.
Paramos em Guaviruva e eu, pasmo e num outro mundo, quase me esqueci de dar um “tchau” para a Kioka, professora da escola daquele bairro e que se tornaria minha protetora em futuras disputas profissionais e amorosas. Depois do Guaviruva, só mais umas quatro ou cinco curvas, dizia o Baiano. “Logo a gente chega”, dizia, creio que face a abusivas mostras de ansiedade que eu – sem saber - demonstrava.
- “É ali”.
No porto não havia o bambu embandeirado com o saco plástico solicitando a parada. De tanto pedir informações, tanta ansiedade, não só o mestre mas toda a lancha sabia que era ali onde eu deveria descer. A Sete manobra, encosta e desço com minhas malas e meu guarda-chuva.
A escola em frente, a uns trinta metros do rio, separada apenas por uma estradinha. Coloco as malas e o guarda-chuva no chão batido da estradinha e fico indeciso sobre se olhar para frente e ver a escola ou se para trás e ver a Sete partir.
Estava ainda ali parado, calado, mudo quando - naquele tempo sem Internet, nem mesmo telefone havia por lá - do nada surgiu um japonezinho:
- “É o professor? A chave da escola.”
Saí daquele estado de indefinido torpor, apanhei a chave e abri a escola. Que era também minha casa: uma cozinha com um fogão de lenha, uma salinha e um minúsculo quarto com uma cama e colchão meio aos pedaços, e claro, a sala de aula.
Era a concretização da Escola de Emergência do Bairro da Lagoa Nova. Eu abri as janelas e vi em cada uma um novo ângulo, uma nova paisagem, um novo mundo. Na da frente o rio, na de um lado o imenso bananal, de outro ao longe uma azul montanha...Tudo muito quieto, nada de casa ou gente por perto ou pelo menos à vista.
- “Pai tá chamando professor para almoçar”.
Do nada surgia, mais uma vez, o japonezinho futuro aluno do terceiro ano.
Ao almoço na casa do sr. Seishum, pai de Mário o tal do japonezinho. Enquanto comia e falava de onde vinha era alvo de curiosidades. Olhares espertos me fiscalizavam entre as aberturas das portas, ou mesmo, entre os vãos das tábuas que separavam os cômodos da casa. Seria lá o local onde faria minhas refeições. Acertado e combinado voltei para a escola.
Munido outra vez de um orgulho indescritível e emocionado entro em “casa”, passo em revista todas as janelas e respectivas paisagens; e em uma reverência maior paro, dentro na sala de aula, frente à porta aberta para a futura entrada dos alunos. Numa premonição, antevejo o dia seguinte, onde, naquele mundo sem Internet, telefone e jornal, as crianças irão surgir pela estrada beirando o rio, pelos corredores dos bananais ou de canoa atravessando o Ribeira. Virão quietas, desconfiadas, com suas sandálias havaianas presas nos dedos das mãos. Chegando no “porto” da escola lavarão, no rio, os pés para calçá-las. Aí vou agrupá-las nas três seções do primeiro ano que ocuparão as fileiras da esquerda, o segundo ano as filas centrais e o terceiro ano na última fila à direita. Incorporava minha autoridade de professor, já tomava importantes – pelo menos para mim - decisões e muito feliz fazendo jus ao salário que após alguns meses de atraso receberia e que eu achava alto e bom.
Passado o êxtase revejo mais uma vez cada uma das paisagens em cada uma das sete janelas. Vou para a frente da escola até o rio e recordo a viagem de lancha.
Volto para dentro e enquanto a luz do dia favorece coloco querosene na lamparina que irá fornecer luz à noite.
Fica claro a solidão que me rodeava. Seria a primeira noite longe de tudo e de todos.
Será que vou ter medo?